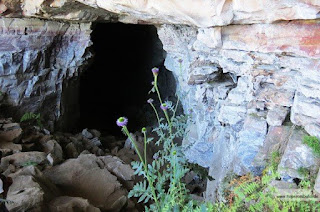|
| Fachada atual |
O palacete, de aspecto neoclássico, foi inaugurado em dezembro de 1881, com a presença do Imperador Pedro II, para funcionar como sede administrativa do matadouro público, na área da antiga Fazenda Imperial de Santa Cruz.
Em 1886, algumas salas abrigaram a Escola Santa Isabel para os filhos dos trabalhadores do matadouro. No início da República, o matadouro tornou-se tecnologicamente defasado e aos poucos, a escola foi ocupando todo o palacete.
Em 1921, com o nome de Escola Estados Unidos, ali eram ministrados cursos práticos e teóricos de agricultura, apicultura e trabalhos manuais, consolidando assim o uso educacional e cultural. Durante cerca de quarenta anos a instituição dedicou-se ao ensino técnico, recebendo, em 1946, o nome de Escola Princesa Isabel.
 |
| Escavações arqueológicas |
Na década de 70, o prédio encontrava-se em condições bastante precárias e a escola foi transferida para outra edificação, especialmente construída nos fundos do terreno.
A antiga sede administrativa do Matadouro Público de Santa Cruz, considerada patrimônio cultural da cidade do Rio de Janeiro por suas características arquitetônicas e importância histórica, foi tombada em maio de 1984, pelo Decreto Municipal nº4.538.
Desde 1993 a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro promove obras de restauração, adequação de uso, pesquisa arqueológica e educação patrimonial.
O Projeto e as Obras de Restauração e Adequação de Uso foram executados sob a orientação da Secretaria Municipal de Patrimônio Cultural, atual Subsecretaria de Patrimônio Cultural, Intervenção Urbana, Arquitetura e Design (SUBPC) da Secretaria Municipal de Cultura, com fiscalização da Riourbe.
A proposta visa a preservação do monumento para as gerações futuras e a sua reinserção no cotidiano da comunidade através da implantação do Centro Cultural Princesa Isabel, que abrigará a sede do Ecomuseu, um auditório multi-uso, a Biblioteca Popular de Santa Cruz – Joaquim Nabuco, salas de exposição, cursos, oficinas, música e dança.
As obras executadas foram:
Área Externa:
Tratamento paisagístico;
Execução de iluminação monumental externa, inclusive do logradouro;
Recuperação dos muros e gradil;
Construção de cisterna e instalação de caixa d´água com Reserva técnica de incêndio (RTI);
Recomposição das canaletas de drenagem;
Execução de novo calçamento com rampas visando acessibilidade plena.
Área Interna:
Execução de lajes pré-moldadas no 2º pavimento;
Execução das instalações prediais: elétricas, hidro-sanitárias, Sistema de Proteção contra Incêndio (SPCI), infra-estrutura de ar-condicionado;
Execução de pintura e recuperação dos revestimentos;
Recuperação dos pisos e tetos;
Execução de mezanino para a implantação de camarins e vestiários de funcionários;
Instalação de elevador;
Complementação das escadas em perfil metálico.
Fachadas e Prismas:
Recuperação das fachadas;
Recomposição beirais e elementos decorativos em argamassa;
Recuperação das esquadrias de madeira, inclusive ferragens;
Recuperação das grades de janelas.
Cobertura:
Revisão da cobertura, inclusive madeiramento;
Execução de acesso à cobertura para manutenção.
Ação Educativa: A ação educativa no Palacete Princesa Isabel consistiu no seminário “ Nas Terras de Santa Cruz: História, Arqueologia e Restauração” organizado pela SEDREPAHC, atual SUBPC, e 10ª Coordenadoria Regional de Educação, contando com a presença de mais de 120 pessoas. Dentre as palestras proferidas destacamos a de Odalice Miranda Priosti, museóloga que reproduzimos a seguir.
"ECOMUSEU: "DAS TERRAS DE PIRACEMA AO ECOMUSEU COMUNITÁRIO DE SANTA CRUZ: a dimensão político-cultural de um processo museológico comunitário"
Síntese da história de Santa Cruz, bairro da Cidade do Rio de Janeiro, localizado na Zona Oeste, oriundo da Fazenda Jesuítica, Real e Imperial em suas fases diferenciadas. A trajetória da Fazenda foi política e economicamente marcada pela presença do Rei D. João VI, à qual conferiu status de sede do poder em suas temporadas de veraneio, religando-a ao Paço de São Cristóvão, por meio da revitalização da Estrada Real de Santa Cruz.
Após o período joanino, a intermitência do poder imperial em Santa Cruz assinala a presença da Corte em significativos momentos, desde as festas pela Independência, os saraus promovidos por D. Pedro I, a inauguração do Matadouro por D.Pedro II e as visitas de cientistas e artistas estrangeiros, acompanhando o monarca e legando belas iconografias e outros registros da Fazenda.
O esvaziamento e ocaso político da Fazenda, consequente à proclamação da República, compensado mais tarde pelo desenvolvimento trazido pelo Matadouro, precede um novo surto revitalizador com a criação do Distrito Industrial, na década de 60, que viria para suprir a economia do recém-criado Estado da Guanabara, após a mudança da capital do Brasil para Brasília. Assolada por violentas transformações no seu perfil psicosociológico, a comunidade local passa a se mobilizar em defesa de seus bens patrimoniais (naturais e culturais) e da história e cultura locais, a partir da fundação do NOPH – Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica em 1983, movimento que hoje é assumido e reconhecido como Ecomuseu do Quarteirão Cultural do Matadouro. Por meio da experiência de ecomuseu urbano, Santa Cruz conhece um novo momento de integração e reconhecimento no processo político-cultural da cidade e se torna uma referência na museologia contemporânea, fazendo evoluir conceitos e desenvolver museologia e museografia adequadas a sua realidade. (autoria de Odalice Priosti)
Referência Bibliográfica
LAMEGO, Adinalzir Pereira.
Santa Cruz, a Fazenda e o Bairro: Fontes para o Estudo de sua História. Ano 2014.
Acervo Biblioteca do NOPH
Clique neste link e saiba mais detalhes sobre a obra de restauração do Palacete
https://santacruz450-resumosefontes.blogspot.com/ Acesso em 29/10/18
http://www0.rio.rj.gov.br/patrimonio/proj_palacete_princ_isabel.shtm Acesso em 29/10/18
https://pt.wikipedia.org/wiki/Palacete_Princesa_Isabel Acesso em 29/10/18
Pesquisa e postagem neste blog por Adinalzir Pereira Lamego